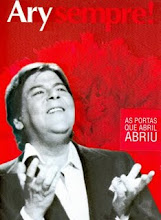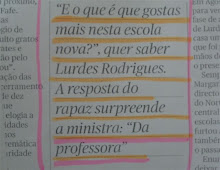Com um beijinho para a Hélia Correia, tomo a liberdade de transcrever um artigo seu recente
17.01.2014
I
Não tenho competência para escrever sobre os eventos da realidade. Começa a
falha pelo léxico: nem sei se o termo “evento” pode usar-se aqui. Não aprendi o
bom vocabulário. E quanto à organização para o discurso, saber onde ele começa
e como acaba, mais o que pelo meio se vai pondo, tão pouco faço a mais pequena
ideia.
Eu, quando tenho de falar com alguém do género bancário ou fiscalista, aviso
logo que sou das “Humanidades”, isto é, completamente ignorante. E peço
caridade lexical, paciência: essas virtudes superiores. Nunca se fica muito
esclarecido, mas trata-se de não incomodar. Um resto de amor-próprio determina
que escapemos depressa do cenário. A humilhação chama pela maldade e eu resplandeço
quando ocasionalmente alguém me diz uma palavra cara que posso decifrar
rapidamente, emudecendo o interlocutor: “Sei o que significa, vem do grego”,
disparo. E já não é uma conversa. É uma espécie mitigada de motim. O anedotário
da revolução francesa regista que os motins não causam dano, são como uma
pequena bebedeira. Não vale a pena perder tempo com motins. Não vale, aliás, a
pena perder tempo. Estrebuchamos no vazio e alguém ri.
Parece, às vezes, que o cenário da ficção científica assentou no planeta
actual: que criaturas mais ou menos humanóides nos conquistaram pelo interior e
desapoderaram-nos de tudo, esperança, dignidade e alegria. Vimos tanto clamor
nas praças gregas, cólera e fogo com nenhuma consequência. É como se entre os
protestantes e o poder não houvesse trajecto, não houvesse natureza contínua.
Duvido até que conseguissem procriar se a carne de uns e de outros se
encontrasse. Respiram ares diferentes e não faz sentido algum que certa
retórica da esquerda os desafie a que experimentem a pobreza, a que tentem
viver com o salário que destinaram para os indefesos. Provavelmente viveriam
bem porque não se alimentam como nós. Nem dormem como nós. Talvez nem morram. A
verdade é que pouco pensamento nós conseguimos produzir sobre eles. A desumanidade
é um mistério.
II
Vejo como anda gente a reclamar que se dê espaço à imaginação. É uma herança
daquele Maio de 68 que a queria no poder e fez com isso uma bonita frase.
Aliás, não houve muito muito mais que herdar. Mas enquanto os filósofos confiam
nos benefícios do receituário, longe deles e do fumo dos Gauloises está à
espera a serpente,latet anguis. Os Le Pen crescem sem filosofia. E a
imaginação, que faz? Distrai. Melhor será dizer que nos engana. A alegoria
cibernética que eu acima explorei trouxe um sorriso a este texto enquanto
texto. E mais além não vai. Fornece uma dinâmica de jogo e entretém vagamente
até cansar.
Sim, porque é de cansaço que se trata. De exaustão, no sentido de não termos
nem uma gota que nos dessedente. Eu tenho o pensamento habituado à escrita
metafórica e aqui estou a criar uma imagem enganosa. Se procurar um modo de
dizer exacto, brutal, limpo, em que a palavra perca os seus ademanes de
palácio, não acharei em “exaustão” o termo certo. Ninguém caminhou tanto que se
sinta quase a morrer por desidratação. No “país de poetas”, caímos
automaticamente numa coloração vocabular que muito raramente dá bons textos. De
tão familiar, não a estranhamos. Até deixamos que trabalhe contra nós.
Por que aceitamos que se fale, por exemplo, nas “gorduras do Estado”? O Estado
não tem metabolismo. Tem excesso de despesas, muitas delas em mordomias e em
disparates.Um Estado não “emagrece”: corta nos gastos, e a escolha para os
cortes tem critérios, e os critérios não se aplicam ao acaso. Aquilo que se
chama ideologia, a moldura mental com que um comum destino se interpreta e
planeia, decide a escolha. E escolhe-se cortar naquilo que é empecilho ao
projecto, no que se quer extinguir ou, pelo menos, fazer partir para onde não
se torne visível. Com a metáfora sobre o corpo obeso dá-se a volta ao assunto,
transformando-o em algo humanizado e censurável. Fica fora do alcance da razão
— nos labirintos do imaginário, naquilo que culturalmente assimilámos a ponto
de esquecer — a simpatia pela causa. Dentro de nós, a ideia do descuido, da
glutonice, da preguiça, enfim, do Sul, facilmente coabita com a ideia de
punição e de dieta rigorosa. Tomar medidas para emagrecer é justo e bom. Se
implica sacrifícios, são sacrifícios de ginásio, desses que conferem certa
estética ao suor. Só um bulímico se recusa a entender e a estimar um regime que
assegura saúde e elegância a quem o siga. Alcança longe, a manha da
metáfora.
É necessário estarmos prevenidos contra os efeitos destas redacções. Há, no
deslize para as figuras de compêndio, quase um tropismo, uma procura de
consolo. Isso empobrece a agudeza do olhar. Sei que aquilo que eu disse muita
vez — “Hoje o nosso inimigo não tem rosto”, para significar que é mais difícil
reconhecê-lo, assinalá-lo e confrontá-lo, não é só uma frase retórica e inútil
— partilha essa tendência viciante para a baixa literatura que nos dá a ilusão
de intervir pela palavra. O que a expressão “sem rosto” cria é uma distância e,
mais que uma distância, uma abstracção. Junta-se aos nossos medos ficcionais.
Começámos com o Feiticeiro de Oz, vamos ao Orwell e a lição que retiramos é
que, no fim, acaba tudo bem, os livros fecham-se e as crianças vão para a mesa.
Bettelheim explicou que serventia têm estes entrechos. Um adulto já não beneficia
com semelhante kit de aprendizagem. Corre o risco de hipnose. Vai
pelo sonho. Estou convencida de que sonhar leva a que a musculatura se atrofie.
Temos que
chegue de pequena literatura. Os governantes descobriram o filão e desataram a
usar sem pejo os melhores truques da Academia. Metaforizam desalmadamente e é
com muito sucesso que recorrem aos artifícios da prosopopeia, como novos
Pessoas ou Camões. O que é o Bojador ao pé de um Estado pejado de gorduras, de
mercados que são como velhos senhores que não tomaram a valeriana e atiram os
criados escada abaixo nos maus humores da indigestão? Que mulher fabulosa é
essa Europa a quem nós temos simplesmente de agradar sem compreender bem os
seus caprichos? A Rainha de Copas da Alice, que tanto atormentou a minha
infância porque gritava “Cortem-lhe a cabeça!” sem que se vislumbrasse uma
razão, grita outra vez. Mudou apenas de idioma. Eles declaram: “Ela quer”, “ela
ameaça”, “ela não anda nada satisfeita” e a cada um desses avisos nós levamos
os dedos ao pescoço, com receio de que a cabeça já não esteja lá.
Quanto a enredos, tecem-nos com brilho, sobre modelos de novecentos. Por que
tenho pensado ultimamente no Conde de Monte-Cristo quando leio os jornais?
Porque vemos enredo semelhante, com o injustiçado que enriquece e acaba por ser
dono do destino daqueles que o maltrataram. Edmond Dantès agora é angolano.
Naturalmente, há um pedido de desculpas, uma genuflexão, talvez. The end?
Eles, os novéis cultores da ficção, vão-se referindo muito à “narrativa”. Por “narrativa”
hão-de querer dizer o encadeamento temporal das acções. Mas vão mais longe ao
conseguirem sugerir a malignidade da intriga, a vontade de drama que é aquilo
que enche o texto de pathos e produz no leitor surtos de acidez
moral. Conhecem bem o ofício: não se deixam manietar pelas questões da lógica,
da verosimilhança ou da coerência. Mentem com toda a glória, porque não? Não é
toda a grande obra uma mentira? É só preciso que quem mente minta bem. Minta na
sua glória de poeta. Os governantes mentem com virtude.
E, no entanto, as pessoas não apenas clamam contra o prodigio criativo como até
se declaram indignadas. Por causa da palavra “indignação” é que me pus a
rabiscar o texto. Porque é uma palavra extraordinária. Deu a volta por dentro
de si mesma para contrariar o seu significado. E tratou disso logo que nasceu,
não houve aqui evolução semântica. No rigor do latim, que julgaríamos
incontornável, vemos surgir uma palavra derivada pela prefixação
do in negativo, que transforma um conceito no oposto. “Indignado” é o
que é tornado indigno. E eis, porém, que a palavra não se aceita a ela própria,
empreende uma singular rebelião. Nega a humilhação que cai sobre ela. O
indignado, dizendo-se indignado, renega a sua condição, rebela-se. Vejam o
quanto esta palavra é poderosa. Como deitou ao chão a sua origem. Como tomou
nas mãos a sua vida.
Isto pode parecer prosa de exaltação, mas não passa de simples constatação
linguística. Provavelmente precisamos disto. Enquanto os outros fazem
literatura e a temática Dickens encontra no país uma oportunidade para se
impor, tornemos nós ao simples, ao sensato, ao denso e intenso uso das
palavras. Com o abuso do estilo, fomos deixando para trás a frescura das
origens, a fisicalidade da palavra, ela que é parte do real e nele se inscreve.
Sei que o caminho para a abstracção foi útil e foi bom porque nos fez aceder,
por exemplo, aos conceitos. Mas, mutatis mutandis, assim como Hölderlin
teve certo desígnio ao traduzir Antígona, também eu gostaria de repor a
primeira energia da linguagem, recordando a nudez inicial. Falemos de “catarse”
— que se aplica à gritaria das manifestações. Serve a catarse para energizar?
Não serve. Uma catarse é má medida. Uma catarse era concretamente vómito de
ressaca. O alívio de estômago a seguir a uma bebedeira. Era deitar para fora e
ficar limpo. Transposta para a lição do teatro, assim durou, implicando sempre
uma transformação. É isso o que se quer saindo à rua? Que a vivência nos lave
do mal-estar? Falar não deve aliviar do mal. Pelo contrário, deve torná-lo
inteligível e discutível. Torná-lo, a bem dizer, manipulável. Um material
exterior e que, com esforço, consigamos dobrar. Nós precisamos tanto de
catarses como de sonhos. Temos de levar outra intenção para as ruas.
O que é manifestar? É dar a ver. Dar a ver com as mãos. Não necessariamente
mãos em festa — a etimologia é duvidosa. Provavelmente mãos conflituantes. Há
com certeza uma finalidade para juntar num desfile a multidão, mas nós não
somos já gente de ritos, não somos gente de re-ligação. Temos de inaugurar tudo
novamente, a começar pelas frases de incentivo, pois as que ouvimos, de tão
velhas, tão usadas, perderam o vigor. Estão transformadas em ladainhas de
beatitude. Aliás, as mais das vezes não serviam como motores de mobilização,
fracas de rima, rastejantes de sentido. Mas enquanto se caminhou a passo forte,
enquanto, a velocidades várias, se manteve uma leitura histórica das coisas,
uma certeza de alma potenciava aquele vocabulário esmaecido.
Se hoje as pessoas continuam a marchar é porque, à força de repetição, os
sapatos estão enfeitiçados. Não é de dança, mas de espasmo, o movimento. O
grito que invectiva já não faz estremecer o seu destinatário. O seu
destinatário olha para “aquilo”, chama-lhe “aquilo”, e vai à sua vida. Mostra
um grande talento para apoucar. Nós que talento revelamos? O da fé? O da brava
teimosia? Repetimos os nossos argumentos… “até à náusea”: assim acaba a frase
que herdámos da retórica latina. Não é possível refazer a língua? É, sim.
A nova poesia portuguesa já deitou as metáforas ao lixo. Está cheia de real e
de um real sujeito a um olhar e a uma oficina que lhe conferem, numa mesma
nota, estranheza e ressonância familiar. E há jovens cientistas muito atentos
ao uso não utilitário da palavra, mais atentos, direi, do que muitos literatos.
Eu tive o privilégio de falar, para uma sala de lotação superesgotada, sobre a
pouca importância do enredo nos textos. Isso interessou-os extraordinariamente.
Num mundo apoquentado por gravatas, eu vejo os meus amigos estudantes e
doutorandos de Cultura Clássica, em não pequeno número, dispostos a cruzarem
experiências e saberes como se tudo começasse agora e a Antiguidade nos
tocasse. Se deles não vier o apetrecho que nos ensine a ver, e a ouvir, e a
clamar com outro assomo de energia, se aplicarmos ao “hoje” o alfabeto que
aplicámos ao “ontem”, nada lemos.
III
A nitidez que existia nas velhas ditaduras, os claramente vistos Bem e Mal, a
ausência de dúvida nas causas, os perigos a que o corpo se arriscava,
alimentavam plenamente a alma. Não era porque o inimigo tinha um rosto que a
resistência se tornava articulada com a própria vida, como uma moral. Não
tinham rosto os espiões da PIDE. Havia nomes, sim. Mas também temos nomes
agora. A diferença é que o novo poder não ameaça directamente com prisão e com
tortura. Por um reflexo quase biológico, a violência, o assassinato, o corte da
estrutura vital cria mais vida. Era esse o princípio que levava uma revolução a
triunfar.
O grande golpe é o que se dirige à alma. O meu sentido de “alma” é o que vem
da anima latina, claro está, a instilação da vida que nos torna
activos e pensantes. Qualquer torcionário aprende cedo que a alma não se tira
com a faca mas com manobras de desorientação e de abatimento. O sopro anímico
extingue-se depressa, bem mais depressa que o bater do coração, e sem sujar.
“Desanimados”: eis a nossa condição. Bem mais difícil de remediar do que a de
meros “oprimidos”, pela diferença que existe entre ter ânimo e não ter.
O ânimo requer o alerta dos sentidos. Não por caso, entre os soldados na
batalha, alma era sinónimo de coragem. É de coragem que necessitamos, da
coragem de ver e rejeitar. Não vamos pelo sonho. Assistimos, tempos atrás, a
uma breve ardência, quando se encheram praças a Oriente — chamou-se a isso a
Primavera Árabe — e o mundo pareceu fácil de abraçar. Víamos o real? Não, não o
víamos. E, no entanto, ele move-se sem nós. Move-se sem parar. Quando
acordamos, não temos senão cinza nos cabelos. Há um gesto possível? Há um
gesto. Pelo menos, sacudi-la. Pelo menos, neutralizar a fábula, desmascarar os
efabuladores. Ainda não conhecemos os seus rostos. Somente os rostos dos
pequenos servos. Conhecemos, porém, os artifícios.
Por que usam a palavra “austeridade”? Porque há nela uma certa ressonância de coisa
justa, de atitude respeitável. Alexandre Herculano foi austero. Sóbrio, frugal,
um tanto seco na expressão, honesto, incorruptível — isso mesmo. A austeridade
é um estádio a que se chega num percurso moral muito esforçado. É um modo de
vida, uma atitude pela qual alguém opta, numa escolha inteiramente pessoal,
quando recusa render-se ao luxuoso e ao supérfluo. Classificar alguém de
“austero” significa que lhe atribuímos qualidades pouco usuais no cidadão
vulgar. Ouvimos a palavra e logo o nosso dicionário subconsciente nos assinala
que é para respeitar, acatar e temer. Se há uma “austeridade” que castiga é
porque andámos na dissipação. Pressupõe-se que nós baixemos a cabeça sob o
pecado que a palavra implica. Na verdade, não há “austeridade” aqui. Há alguém
empurrado para a miséria. É um processo involuntário, imposto por uma força
superior, neste sentido de que não pode desobedecer-se. E imposto, no sentido,
também, da inocência. Estamos a pagar o quê, porquê? Em que momento é que
prevaricámos? Foi a comprar mais um televisor, foi a escolhermos uma sala com
lareira? Nós aprendemos, no devido tempo, que não podemos alegar ignorância da
lei se a violámos, mas havia uma lei contra o conforto? Havia alguma lei que
proibisse os filhos de viverem como tinham vivido os patrões dos seus pais?
Devo dizer aqui que o consumismo me desperta uma viva repugnância, que admiro e
sigo, porque quero, a vida “austera”. Mas, porque eu ando de transportes
públicos, entenderei que a compra de um automóvel deve entregar o cidadão ao
agiota? Estou a falar de pequeninas coisas, de minúsculas coisas que não chegam
para lançar uma pessoa no inferno. O grande gasto, o gasto vil, onde se
oculta?
Não, não nos pedem a “austeridade”. Eles exigem a pobreza e as suas
consequências. Não, não fizemos mal. O que fizemos foi por fraqueza de
desprevenidos ante a perversidade dos banqueiros. Não nos aliciavam com
empréstimos? A bruxa má não estava a oferecer maçãs? Ficaremos agora deitados
no caixão, narcolépticos, à espera de algum príncipe?
Vamos de história em história, adormentados.
Uma palavra envenenada estraga o mundo. Basta atentarmos em “democracia”,
palavra vinda de tão longe, trabalhada, moldada, experimentada tanta vez.
Parece ter sofrido uma anquilose, uma patologia da velhice que a transformou
numa entidade rígida. E o conceito que lhe corresponde imobiliza, prende, como
num propósito de teia. Diz-se: o eleitor votou em liberdade. E essa liberdade
manietou-o. Mais não pode fazer do que esperar pelo próximo processo eleitoral.
E censuramos os abstinentes que nos respondem que “não vale a pena” — quando os
factos lhes dão toda a razão. Porque a democracia está disforme, ainda que
insistamos em louvá-la.
Se olharmos sem a ilusão veremos quão irreconhecível se tornou. Veremos como finda
o seu processo ali onde devia ter início. Melhor dizendo: finda o que, em
rigor, é perene. A palavra “escrutínio” significa, para nós, simplesmente, a
contagem dos votos. Mas escrutínio não é apenas isso: é vigilância. É
observação continuada, é um exame de comportamentos. Por alguma razão os
ingleses, experientes neste assunto, ainda aplicam a expressão under
scrutiny aos governantes. O sustentáculo da democracia está na
possibilidade e na probabilidade de cada cidadão vir a ser eleito e, uma vez
eleito, prestar contas. Essa é a superioridade da República e a sua beleza. O
voto é só um expediente técnico que o espaçamento temporal vicia.
Como se leva isso à prática não sei. Mas sei como se leva ao pensamento. E sei
que o pensamento é o que faz levantar a cabeça. Estamos num tempo novo,
rodeados por luz e escuridão para as quais não temos nem mapa nem farol. Temos
modelos tão inspiradores como remotos. Certo é que a palavra é a obra do humano
e a palavra não cessa de existir. Com palavras se fazem os fascismos, e Magnas
Cartas e as Constituições. Cultivá-las, estudá-las, não nos salva talvez. Mas
dignifica-nos. E se podemos aprender algo com o passado, antes de o perdermos
completamente de vista, é que a dignidade se conquista e que a indignação a isso
ajuda.
 ‘A Bailarina II’ surgiu em 1925 e viajou o mundo para mostrar seu talento. Dança, rodopia e se faz presente assim como a lua que insiste em iluminá-la. Misteriosa, até mesmo o cantor e compositor Oswaldo Montenegro apaixonou-se por ela presenteando-a com uma canção. O coração estava sempre tranqüilo, mas aquecido como o fogo que contornava todo aquele azul. Seus gestos delicados deixavam marcas que se espalhavam como pequenos pontos mágicos pelo ar.
‘A Bailarina II’ surgiu em 1925 e viajou o mundo para mostrar seu talento. Dança, rodopia e se faz presente assim como a lua que insiste em iluminá-la. Misteriosa, até mesmo o cantor e compositor Oswaldo Montenegro apaixonou-se por ela presenteando-a com uma canção. O coração estava sempre tranqüilo, mas aquecido como o fogo que contornava todo aquele azul. Seus gestos delicados deixavam marcas que se espalhavam como pequenos pontos mágicos pelo ar.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































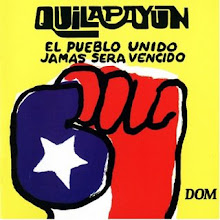.jpg)